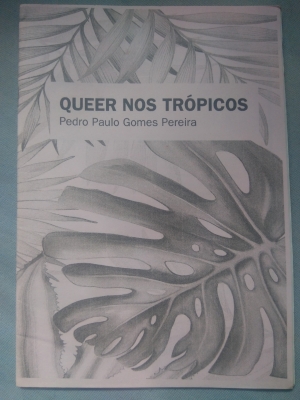
Queer nos trópicos é um zine feito a partir de um artigo de Pedro Paulo Gomes Pereira publicado em 2012 na revista Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar. Este texto busca problematizar tanto a potência da teoria queer como seus possíveis limites quando aplicada para compreensão da realidade de países como o Brasil.
Queer nos trópicos – Pedro Paulo Gomes Pereira (2012) – Resumo
Pedro começa dizendo que a primeira teórica a utilizar o termo “queer” também foi uma das primeiras críticas: “A teoria queer havia se transformado numa criatura conceitualmente vazia da indústria cultural” (De Lauretis, 1991). As indagações sobre o queer nos trópicos começam pelo risco de estarmos repetindo o que já está ultrapassado no Norte Global. Deveríamos traduzir o termo “queer”? Usar o termo em inglês já não implica em aceitar um conhecimento formulado por outros?
O conceito de queer representa a transformação de um adjetivo negativo numa diferença que não pode não pode ser assimilada, com um caráter eminentemente transgressor. “O queer suplanta o ato identitário assumido e seus efeitos reificados em identidades”. Assim, além de adjetivo ou substantivo, queer seria um verbo:
Um verbo que desenha ações e deslocamentos arriscados, delineando trajetórias múltiplas de corpos instáveis, provisórios e cindidos. O ato performático muda; o que incomoda e abala é a mudança, não só porque altera os sujeitos que enunciam, mas porque insere a probabilidade de transformação. A multiplicidade de corpos drags, trans e gays assinala a possibilidade do transformar-se.
Em vez de uma identidade queer, fala-se em corpos queer que “se rebelam contra a própria construção de corpos normais e anormais, subvertendo normas de subjetivação vigentes”. O queer, porém, não pode ser confundido como uma simples política da diferença.
A partir da discussão entre Judith Butler e Paul Preciado, ele aponta para os limites da ideia de gênero como performance e adiciona a questão das tecnologias de incorporação (como hormônios) que permitem diferentes inscrições performativas. O gênero deve ser pensado, portanto, “no marco de produção de um aglomerado de materiais sintéticos, como a pílula anticoncepcional, o silicone, o vestido, a arquitetura e os códigos de publicidade, a pornografia, os espaços sociais e suas divisões, a divisão dos corpos em órgãos sexuais e funcionais.”
Para Butler, as práticas políticas subversivas dependem de repetição que se torna norma, e para Preciado, a agência se dá pela dissidência das normas: “Se para Butler os agentes contemporâneos se definiriam por atos, gestos corporais e discursos, para Preciado o que os caracterizariam seria a mediação entre corpo e biotecnologias”.
Preciado busca complementar a teoria do biopoder de Foucault, que “descreve a modernidade numa indissociabilidade da vida biológica e da vida política”. Nesta sociedade disciplinar, as tecnologias operam de fora do corpo, para controlá-lo. Na sociedade farmacopornográfica de Preciado “as tecnologias formam parte do corpo e nele se diluem – as tecnologias se convertem em corpo, não havendo espaço entre tecnologia e corpo”.
A realidade brasileira, porém, está longe do contexto analisado por Foucault. Ao mesmo tempo, “a entrada da vida na história no ocidente [o biopoder] dá-se sob, e tem como condição, a própria ação colonial”. A qualidade de vida no ocidente depende da precariedade da vida nos trópicos. Foucault e Preciado não parecem se aprofundar nas relações entre biopoder e práticas coloniais. Os conceitos de biopoder e farmacopornopoder “não obstante as pretensões universais, teorias ancoradas em histórias particulares”. Precisamos então compreender como se articula o poder e a dissidência queer nos espaços periféricos.
Para realizar tal análise, Pedro Paulo recorre à relação entre os corpos “estranhos” e as religiões afro-brasileiras. Ele fala de travestis que frequentam casas de santo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul: “Ao som do batuque, entram em transe, incorporando Pombajira – o espírito de uma mulher (e não orixá) que em vida teria sido uma prostituta, mulher capaz de dominar os homens por suas proezas sexuais, amante do luxo, do dinheiro e dos prazeres”.
Para Pedro, o simbólico presente nas religiões ou nas espiritualidade é usado subversivamente de modo parecido a como a tecnologia seria usada em outros contextos. Há redefinição de papéis de gênero e de sexualidade por meio da religião, escapando de categorias essenciais ou identidades rígidas. Não que isso ocorre sem nenhum conflito: “as travestis buscam o acolhimento de suas sexualidades dissidentes no interior de uma nova gramática, procurando na religião opções performáticas, morais e de conhecimento que justifiquem suas escolhas, que lhes acolham, e nas quais possam se expressar”.
Há uma adequação da linguagem mítica ao desejo de transformação corporal. Essa nova linguagem permite que travestis se vejam para além do olhar patologizante e criminalizante. Ela também representa uma contraposição à moralidade cristã que geralmente acompanha sua opressão: “As travestis se definiriam por atos, gestos corporais e discursos; por próteses cibernéticas e substâncias químicas, mas também, e sobretudo, por santos e entidades”.
As mediações com entidades e deuses implicam pensar em outros corpos, outras formas de agência, que não são redutíveis às teorias com pretensões universalistas vindas do ocidente colonial:
A potência da teoria queer e seu não congelamento em teorias prévias e sem conexões com as histórias locais dependerá de sua capacidade de absorver essas experiências outras e, nesse processo, alterar-se. As reticências sobre o termo queer que, como se sabe, não possui tradução fácil, poderiam então se arrefecer. Como dizia, alguns autores comentaram que o termo queer por si assinalaria certa assimetria, pois sempre evoca um contexto inglês e ocidental para o mundo. No entanto, se a teoria queer puder, ao contrário, se abrir para essas outras experiências e saberes – como as narradas neste texto, nas quais se assinala a diferença de corpos, formas de agência, mediadores, subjetividades –, deixando-se afetar, nesse caso, há a possibilidade de, em vez de o termo em inglês assinalar um processo de assimetria consubstanciado num eurocentrismo avassalador, a expressão designar a resistência a traduções fáceis.
Queer poderia ser traduzido como “estranho”. Houveram propostas de substituir o conceito de “teoria queer” por “estudos transviados”, por exemplo. Pedro Paulo conclui dizendo:
Proponho aqui que mais importante que procurar equivalentes diretos para o termo queer numa ou noutra língua seria a necessidade de “conduzir a um outro lugar”, seria o “encontro” e a “invenção” (…) Se os estudos queer estão paralisados, como salientam alguns, talvez seja porque petrificados em teorias universais do Norte Global que são exportadas para os trópicos para serem simplesmente aplicadas. E provavelmente qualquer promessa de rejuvenescimento esteja vinculada às possibilidades de se escapar dessas armadilhas, em processos de distorção e deslocamento que as experiências outras podem provocar.
